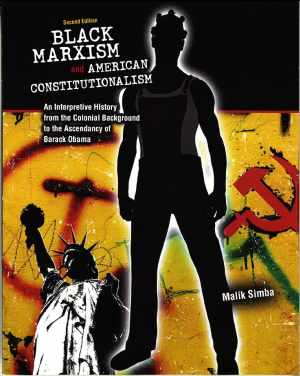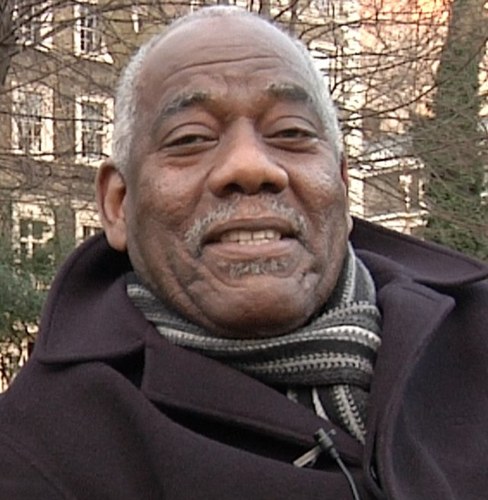Por Richard Seymour e Daniel Hartley,
via Revue Periode, traduzido por Ícaro Batista
Mesmo em suas interpretações as mais sofisticadas, o marxismo tem uma tendência de ler o racismo de forma instrumental. Tal ideologia é adotada por uma série de atores porque é consistente com certos interesses, porque consolida alguma forma de hegemonia, porque tem privilégios de brancos. Para o jornalista e pesquisador independente Richard Seymour, essas explicações são insuficientes. De uma carreira militante dentro da esquerda revolucionária, Seymour mostra nesta entrevista o quão ruim ele considera a tendência dos marxistas a racionalizarem excessivamente os comportamentos, por vezes mais irracionais, como linchamentos, formas racistas de violência em massa. Para enfrentar esse desafio teórico, ele convoca Poulantzas, Stuart Hall e até mesmo Lacan. Além, dessas preocupações, Seymour nos oferece aqui uma verdadeira lição de retificação, de autocrítica, para estar à altura da contrarrevolução preventiva das classes dominantes.
Daniel Hartley: Muitas vezes, quando os intelectuais são entrevistados – estou pensando em particular na recente série de entrevistas conduzidas por George Souvlis (ver Davis 2016, Eley 2016), cabe ao interrogador convidar o entrevistado para vincular sua pesquisa acadêmica a problemas políticos e estratégicos imediatos. Com você é o oposto. Se há uma coisa que caracteriza sua atividade intelectual, é essa capacidade de reagir instantaneamente a eventos históricos e políticos em constante mudança. Portanto, o propósito desta entrevista será levá-lo a desenvolver os aspectos mais teóricos do seu trabalho (tendo em mente, é claro, que suas respostas políticas imediatas são informadas pela teoria). Talvez você possa começar nos contando algumas palavras sobre seu treinamento teórico e político. Como você chegou ao marxismo e quais figuras intelectuais o influenciaram mais?
Richard Seymour: Minhas primeiras influências de formação marxista vêm da tradição internacional-socialista. É difícil para mim não dizer coisas ruins sobre essa tradição, considerando como terminou seu principal sucessor, o Partido dos Trabalhadores Socialistas Britânicos. E sempre fui muito duvidoso sobre o sentimentalismo com que alguns de seus apóstolos hoje dão conta de suas façanhas passadas. Mas é uma tradição que produz marxistas, o que não é insignificante.
Entrei para o SWP quando os princípios do Novo Trabalhismo entraram em vigor, em 1998, e imediatamente me envolvi em suas tradições teóricas. Mike Kidron e Chris Harman para Economia, Alex Callinicos para Filosofia Política, ou a Weltanschauung (“concepção do mundo”) de Tony Cliff (que era, estranhamente, sóbrio e nervoso). Existe certa ortodoxia trotskista que reivindicou um “Terceiro Campo”, vendo o movimento trabalhista como uma fonte potencialmente autônoma de democracia socialista, oposta tanto ao stalinismo quanto ao capitalismo hegemônico dos EUA. De certa forma, a ortodoxia do SWP não deveria ser “em qualquer campo”. A URSS era um capitalismo de Estado ditatorial cuja implosão era quase dada com antecedência, o “mundo livre” estava caminhando diretamente para a pior crise, a social-democracia se tornara um agente do capitalismo, líderes sindicais foram integrados no funcionamento adequado do sistema, e a única alternativa plausível estava na “base” da classe trabalhadora – exceto que essa base não mais existia. Não é de surpreender que, para um membro dessa tendência, a coisa mais esmagadora que poderia ser dita sobre alguém é que era “pessimista”, já que todo o edifício baseava-se na recusa de reconhecer a aniquilação completa das condições de possibilidade de uma política revolucionária.
Um segundo conjunto de influências vem do “marxismo político” de Ellen Wood e Robert Brenner. Ao ler “The Origin of Capitalism”, eu fiquei impressionado com o fato de que, além de ser convincente como tal, o livro evitou qualquer recurso teleológico e teve o prazer de enfatizar os elementos da contingência, de uma forma que os marxistas em geral não sabem. Meu interesse era tanto político quanto teórico. No contexto da “guerra ao terror” que ressuscitou a mitologia whiggista [liberal britânica] do império, era prioritário dissecar e frustrar as concepções progressistas da história. No nível teórico, apreciei os aspectos aleatórios do marxismo político. Parece-me que foi Freud quem disse que, acreditar na contingência indefinida para determinar nosso destino é mergulhar em uma forma de espiritismo. Bem, pode-se dizer que em certas formas de marxismo existe um tipo de espiritualismo deslocado. O desafio do marxismo político é restabelecer certas associações conotativas sobre as quais as variantes mais hegelianas do marxismo insistem – por exemplo, entre desenvolvimento urbano e capitalismo, ou entre democracia e capitalismo. A ideia de “democracia burguesa” em particular, está levantando as sobrancelhas dos “marxistas políticos”, porque eles acham que a burguesia nunca teve nada a ver com democracia. Foi, finalmente, um sintoma histérico a identificar-se com o marxismo político, que começava então a desafiar (de maneira relativamente saudável) a ortodoxia do SWP.
Finalmente, fui influenciado por diferentes teóricos marxistas que cada um à sua maneira insistiu na conjuntura e, especialmente, no papel estruturante da ideologia no posicionamento dos atores de classe e nos resultados de suas lutas: Althusser, Gramsci, Poulantzas, Stuart Hall e a escola de Birmingham. Isso fazia sentido porque eu estava trabalhando cada vez mais sobre a ideologia racista, e estava particularmente interessado no entendimento de que as idéias de raça e nacionalidade eram tão poderosas na Grã-Bretanha que as desilusões nascidas do Novo Trabalhismo não beneficiara a esquerda radical ou anticapitalista, mas principalmente a extrema direita. Foi o BNP [Partido Nacional Britânico] que finalmente reuniu quase um milhão de votos, enquanto nenhuma força de esquerda realmente emergiu. E foi então o UKIP [Partido da Independência do Reino Unido] que avançou após a crise de crédito, enquanto a extrema esquerda estava paralisada. Deve ter havido muitas coisas que estavam erradas em nosso pensamento para tornar as coisas tão ruins. Uma das coisas que achei erradas foi nossa relativa desatenção à ideologia, e a descoberta de Gramsci e Hall constituiu uma solução muito útil. Outro aspecto dizia respeito a nossa perfeita incompreensão das características neoliberais e a natureza dos estados modernos, algo que Althusser, e ainda mais Poulantzas, tinha a dizer. Poulantzas, ao contrário da maioria dos teóricos marxistas, não reificou o estado, o que lhe permitiu concebê-lo como a condensação de um equilíbrio de poder – isto é, um produto social. Isso não significa que possa ser dirigido a qualquer momento, não importa em qual direção, porque a estrutura formal do Estado capitalista sempre decide em favor da reprodução do capital. Mas, para dar alguns exemplos, as lutas pela democracia, saúde, proteção social, educação pública, direitos sindicais, o serviço público, etc., são todas as lutas lideradas pela esquerda, tanto dentro como contra o estado capitalista.
DH: Em sua dissertação de doutorado, “O anticomunismo e a defesa da supremacia branca no sul dos Estados Unidos durante a Guerra Fria” [Cold War Anticommunism and the Defence of White Supremacy in the Southern United States (2016)] você mostra que o anticomunismo era um “projeto hegemônico”, cuja concepção exclusiva da americanidade. “Reforçou o papel das leis do sul, Jim Crow, na nação americana”. Você pode desenvolver as principais linhas deste argumento? Como as diferentes escalas – internacional, nacional e regional – da situação da guerra fria convergem e sobredeterminam o projeto hegemônico anticomunista no sul dos Estados Unidos entre 1945 e 1965?
RS: Essa “convergência de escalas” deve nos lembrar que o termo anticomunismo não corresponde a um único processo ou prática. Em cada nível – internacional, nacional e regional – o anticomunismo tem um significado diferente. Mas, o que é comum em todos os três níveis é que o anticomunismo surge como uma maneira de administrar um período de transição, um período durante o qual a autoridade tradicional, as relações políticas e as formas de produção estão em crise.
No cenário internacional, em um sentido amplo, a forma colonial de supremacia do mundo branco está entrando em colapso e o anticomunismo está moldando intervenções sob a liderança dos EUA, visando derrotar aqueles que se opõem a essa supremacia, enquanto conservando e reformando. No nível nacional, faz parte de um processo que conclui o período de reformas liberais iniciado na década de 1930, formalizando suas realizações ao mesmo tempo em que desmantelava as coalizões populares lideradas pelo PCUSA, entre as quais fazia parte o Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Formas nascentes de organização dos direitos civis em que os comunistas desempenharam um papel importante, não redutível às “ordens de Moscou”. A influência dos políticos do sul, geralmente da classe de plantadores e capitalistas têxteis na Casa do HUAC [Comitê de Atividades Não americanas da Câmara, “Comissão Parlamentar de Atividades Antiamericanas”] e SISS [Subcomissão de Segurança Interna do Senado, “Subcomissão do Senado de Segurança Interna” [1]] é primordial. É tanto mais assim depois da queda de McCarthy e do declínio do anticomunismo anterior a 1956.
O período de degelo depois de 1956, bem como a decisão da Suprema Corte de gradualmente desmantelar a segregação na educação através do julgamento “Brown contra o Bureau de Educação” [2] (que faz parte de uma série de cancelamentos pelo Supremo Tribunal de disposições legais anticomunistas), tornaram o papel do Sul no anticomunismo ainda mais importante. Em primeiro lugar, os aparatos investigativos federais mudarão de foco, acabando por assediar o Partido Comunista ao investigar os ativistas dos direitos civis, uma nova geração dos quais estava experimentando um repertório de táticas e novas ações. A decomposição do antigo sistema geoeconômico do sul baseado nas relações de poder rural, urbanização e industrialização no Sul está levando milhões de negros a novas formas de subjetividade coletiva, levar à criação de novas igrejas negras mais radicais e aumentar as fileiras de uma classe média negra com recursos e algum grau de acesso ao estado que lhe permitem apoiar formas de militâncias com sucesso moderado e medidas legais progressivas – o que já era demais para os segregacionistas. E assim o anticomunismo tornou-se a base de uma súbita contra-insurgência no sul. Senador James Eastland, um rico agricultor do Mississippi ligado ao conselho de cidadãos brancos [3] e outros tipos de associações segregacionistas. Ele usou sua posição no SISS para regularmente aterrorizar os ativistas negros dos direitos civis, na esperança de extrair deles confissões de simpatia e agitação comunista. Mas o mais importante é que os estados do sul tomaram um rumo legal radical nessa época, muitas vezes constituindo suas próprias versões locais do HUAC, na forma de “Comissões pela Soberania do Estado”. Eles eram ainda mais secretos mais aterrorizantes e mais comprometidos com organizações da sociedade civil, como os Conselhos de Cidadãos. Eles geram expurgos dentro da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP) e, em estreita associação com os procuradores-gerais, perseguida e assediada professores e sindicalistas de esquerda. Isso funcionou aproximadamente até 1960, até que as autoridades federais realmente demonstraram que os estados locais não tinham capacidade para enfrentá-los.
Com isso, o fator internacional entrou em cena de forma inédita: o sucesso da descolonização interrompeu o confronto frenético, bem como já está aquecendo, a guerra fria, e inaugura um novo imaginário político. Também colocou uma nova pressão sobre o poder federal, ligado ao capital monopolista fordista, para lidar de alguma forma com a crise no sul. Os atores dos direitos civis exploraram o cisma nascente entre as frações do sul da classe dominante e do bloco nacional dominante, tanto quanto as tensões emergentes entre formas de hegemonia interna e formas de hegemonia internacional. A partir desta breve visão geral, vemos como a “estrutura de oportunidades políticas” que os atores dos direitos civis foram finalmente capazes de aproveitar foi produzida e estruturada por crises transitórias ocorrendo em diferentes níveis de produção, representação e política.
DH: Você escreve que o “conceito mestre” de sua tese é o de “hegemonia” gramsciana. Por que a hegemonia se coloca mais especificamente a uma análise da complexa relação entre o anticomunismo e a supremacia branca no sul dos Estados Unidos durante a Guerra Fria? O que distingue esta abordagem de outras? Por outro lado, como suas descobertas alteram ou modificam nossa compreensão do conceito de hegemonia em si?
RS: A hegemonia nunca esteve próxima de um estado concreto de coisas, um processo, um conjunto de práticas voltadas para esse estado de coisas como meta, como é nos Estados Unidos do pós-guerra. Não apenas a classe dominante governou, mas foi um guia. Ele expressou uma missão histórica, uma causa moral – para combater o comunismo, e defender “o mundo livre” que agregou um amplo consentimento popular, para a exclusão de uma minoria combativa, mas dispersa e facilmente controlável.
As classes dominantes do Sul naturalmente se beneficiaram dessa situação, mesmo que permanecessem subordinadas ao bloco nacional dominante. Mas de que maneira? Uma maneira de abordar o problema é perguntar por que eles basicamente optaram pela caça ao vermelho. A supremacia branca não era suficiente? A maioria dos historiadores parece compartilhar da ideia de que o anticomunismo era um elemento necessário para aliar os habitantes do sul ao redor do programa de resistência maciça [4], e drenar todas as organizações políticas e culturais dos estados do sul para a direita. Deixando de lado a questão sobre se a Massive Resistance foi uma boa ideia – acho que foi menos eficaz que a estratégia de “segregação pragmática” que prevalecerá depois de 1960 – é extremamente interessante notar que seu anúncio dizia coisas como “a mistura de raças é comunismo” em vez de pedir “defender a supremacia e integridade da raça branca”.
A ideia de hegemonia nos permite compreender a dimensão estratégica disso, e também nos permite vislumbrar que tais slogans podem ser psicologicamente eficazes se gerarem apoio e adesão. Isso nos permite entender como essas ideologias se materializam em rituais de terror e violência (sejam nas interrogações ritualizadas do aparato estatal, ataques difamatórios da mídia, o terrorismo dos conselhos de cidadãos, os assassinatos da Ku Klux Klan ou outras coisas). No passado, a categoria de hegemonia foi reduzida erroneamente ao problema do “consentimento”. De fato, como Peter Thomas mostrou, a hegemonia consiste em combinações específicas de forças físicas e simbólicas, incorporações específicas – violentas ou não – de ideologias morais e políticas de governo. O que nos impressiona quando olhamos para o terror anticomunista é a maneira pela qual seu ancoradouro popular permitiu que ele se espalhasse nas instituições da sociedade civil, que se infiltrasse nos locais de trabalho, nos sindicatos, no tecido cultural etc. Nunca teria sido tão eficaz se as pessoas não tivessem denunciado, traído e rejeitado os esquerdistas. Se você tomar o terror da supremacia branca no Sul, algo semelhante se aplica. Tudo o que era necessário era uma infração mínima dos códigos complexos e esmagadores da civilidade racial para desencadear explosões ultrajantes de violência popular, linchamentos, geralmente apoiado pelo poder do Estado. Em ambos os casos, o consentimento passou pela violência e vice-versa, por isso não foi apenas um caso de bloqueio no poder defendendo seus interesses organizando o poder estatal: era “sociedade” como um do que alguém que se defendia contra o que ela percebia como uma ameaça existencial. Está muito mais próximo do que a hegemonia capitalista está em seu funcionamento atual do que de uma interiorização persuasiva e consensual pura.
Claro, há algo que a categoria de hegemonia não permite é ir além, situando a dimensão subjetiva disso. Para apreender o significado subjetivo do anticomunismo da supremacia branca, volto-me para Lacan e para a leitura dos sintomas.
DH: A conjuntura teórica contemporânea é marcada por uma série de tentativas de redescobrir, reconceitualizar ou (re) inventar uma compreensão marxista da raça: do trabalho de Karen E. Fields e Barbara J. Fields sobre a “fábrica de corrida” nos Estados Unidos para as de Houria Bouteldja e SadriKhiari sobre as corridas sociais na França, incluindo a reconceitualização proposta por SatnamVirdee da história da a classe trabalhadora Inglês” do ponto de vista do “pária racializado”. Como você situaria seu próprio trabalho nesse campo e o que distingue o racismo contemporâneo de seus antecessores históricos?
RS: Nasci politicamente em uma era de nostalgia pelo império – as fantasias da onipotência global constituindo uma importante resposta cultural aos ataques de 11 de setembro. Soma-se a isso o ressurgimento de ideias spenglerianas ou Pearsonianas [5] sobre “o Ocidente”, sua superioridade moral e civilizacional e sua crise existencial – e, é claro, o Outro Islâmico. Subscrever tudo isso era uma metafísica racial que, por não se referir à raça como entidade biológica, poderia negar seu próprio racismo.
A novidade aqui foi, portanto, a rejeição energética da categoria da raça. O racismo contemporâneo é uma estupidez que não se atreve a dizer o seu nome. “O Islã não é raça”, disseram os árbitros do racismo. Era verdade, claro, mas fazia pouca diferença para aqueles que eram vítimas de vigilância, assédio, aprisionamento, perseguição e “extradição extraordinária” [6] como se fossem uma corrida. E se o Islã aparentemente não era uma raça, então você deveria se perguntar o que é uma corrida. As teses do orientalismo de Said eram preciosas porque permitiam entender que o “Islã” de que estávamos falando, esse “Islã” que se tornara objeto de conhecimento – um islamismo monolítico, com sua própria consistência interna, etc. – não teve nada a ver com as práticas reais dos muçulmanos.
Mas obviamente, o ângulo do colonialismo e do império não era de todo adequado para entender a raça; era uma questão de apreender a dinâmica “doméstica”, os aspectos cotidianos da sociedade capitalista que são organizados por raça e que se prestam à simbolização racista. Isso foi particularmente importante para entender a direção da política na Grã-Bretanha, especialmente depois da crise de crédito. A “questão islâmica” foi reconfigurada como um momento em uma história mais ampla, a dos danos sofridos pelos britânicos brancos. As trajetórias de classe, as formas de declínio regional, as crises nas relações de gênero e as estruturas da família, a evolução dos modos de socialização, tudo isso foi refletido através da raça. Como você pode imaginar, eu tendo a estar mais interessado em trabalhos que capturem as conexões entre raça e outros níveis de realidade social em um estilo gramsciano. Não apenas Stuart Hall e a Escola de Birmingham, mas também a teoria da “formação racial” de Omi e Winant, apesar de suas limitações políticas.
DH: O conceito de hegemonia, como o seu próprio trabalho sociológico e as recentes análises filológicas de Peter Thomas (2009) deixam claro, implica uma concepção mais ampla do estado – o que Gramsci chama de “estado integral”. Entre os herdeiros críticos mais proeminentes dessa teoria estão Louis Althusser e Nicos Poulantzas. Desde o primeiro você escreveu que: “de certa forma o “materialismo aleatório”que eu acho que é característico de seu trabalho, e mais particularmente os conceitos de” sobredeterminação “e” contradição “, teve um papel formativo no meu caminho de interpretar situações (Seymour 2016: 26); da mesma forma, você disse de Poulantzas que “considera [seu] trabalho sobre o estado nunca igualado dentro da tradição marxista” (25). Você pode nos contar um pouco mais sobre a importância desses dois teóricos para o seu trabalho?
RS: Bem, acho que os leitores da sobre a reprodução [do capitalismo] vão concordar, Althusser é, quando se trata do estado, menos althusseriano do que Poulantzas. Este texto é de fato surpreendentemente próximo a Pachoukanis em sua concepção da lei, na medida em que Althusser finalmente situa a base da forma legal na forma de mercadoria. (embora eu ache que ele estava mais interessado no teórico da lei kantiana, Hans Kelsen). A abordagem de Poulantzas em O Estado, Poder, Socialismo parece oferecer uma explicação real da sobredeterminação e da relativa autonomia da lei.
Isto é levado em conta com o fato de que Althusser continua a usar uma expressão idiomática associada à “hipótese repressiva” – que não aparece como “mera coqueteria”
– me faz dizer que, nessa questão, ele estava na posição que ele próprio atribui a Marx, tentando desenvolver suas descobertas “científicas” em uma linguagem “ideológica” emprestada do outro lado. Também me pergunto até que ponto seus escritos sobre o estado e a lei são sintomáticos do deslocamento, neste caso a tentativa de analisar a natureza de classe da URSS. Em suma, o que Poulantzas fez, na minha opinião, foi tomar uma estrutura de análise althusseriana enquanto conduzia um diálogo cada vez mais frutífero com Gramsci. (mas também com Foucault, a escola da “lógica do capital”, etc.), e aplicar tudo isso à resolução de problemas estratégicos concretos.
Entre parênteses, você notará a profunda ambivalência de Poulantzas sobre o estado. Por um lado, ele quer desmistificar o Estado, considerá-lo como um produto da atividade humana como qualquer outro fenômeno social, e ele ordena à esquerda que pare de fetichizar. Ou, o que constitui o outro lado da mesma moeda, adotar uma atitude noli me tangere, de incorruptibilidade em relação a ela – como se não estivéssemos todos já no Estado). Por outro lado, a própria ideia do Estado é para ele uma verdadeira “fortaleza kafkiana” ao mesmo tempo cativante e aterrorizante, que materializa a lógica da colônia prisional de Kafka, a Grundnorm do “totalitarismo” e assim por diante.
Eu não acho que isso seja apenas poesia heurística. Poulantzas descreve os “mecanismos do medo”, os rituais e a teatralidade do poder do Estado, sem os quais é difícil entender muito do que o estado capitalista faz. – Estou pensando, é claro, no HUAC e no SISS. Isso atesta o fato de que existe uma dimensão de ação estatal, lei etc. – o seu erotismo – que ele não é realmente capaz de explicar em termos teóricos, e que ele procura oportunamente um ponto de partida na literatura.
Com o crescente sucesso de um novo direito autoritário e estatista, baseado no espetáculo do sadismo e da punição (um espetáculo elaborado pelo neoliberalismo – Trump era uma estrela da realidade antes de ser eleito presidente), estou cada vez mais inclinado a pensar que também precisamos explicar a mística da ideia de estado em termos psicanalíticos.
DH: Quais você acha que são os principais elementos de uma teoria marxista dos movimentos sociais? O que distingue sua própria análise da literatura de “estudos de movimentos sociais em geral”? Você pode ilustrar sua resposta referindo-se ao seu trabalho sobre o movimento supremacista branco “Massive Resistance” no sul dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, e – em outra conjuntura – os recentes apelos para transformar o trabalho de Corbyn em um “movimento social”?
RS: Em minha tese, tento identificar alguns pontos de partida para uma teoria marxista dos movimentos sociais, em grande parte porque não há teoria dos movimentos sociais. Quase toda essa “teoria” é descritiva e baseada na reificação – precisamente porque trata o movimento social como um fato consumado que precisa ser explicado. Fui influenciado pela reinterpretação de Peter Bratsis da teoria do estado de Poulantzas por meio de uma exegese do trabalho de Gaston Bachelard, em chamas [7], que me impressionou por sua interpretação muito inteligente de não apenas Estado, mas de reificação como tal. Pareceu-me que havia um obstáculo epistemológico central para a compreensão dos movimentos e dos Estados.
Um dos problemas da teoria dos movimentos sociais é que ela gasta seu tempo tentando identificar uma série de características uniformes dos movimentos sociais que podem formar a base de uma teoria. O resultado é bastante nebuloso: eles têm que durar (embora ninguém saiba quanto tempo), envolver uma atividade não institucional (embora isto seja particularmente vago), visar a transformação ou a preservação de algo (que basicamente define qualquer atividade política), etc. Quando uma campanha se torna um movimento social? Qual é a diferença – se houver – entre um movimento e um grupo de interesse? Não está claro. Que tipo de teoria pode fluir disso?
Seguindo os passos de Bratsis, eu disse a mim mesmo: e se partirmos do fato de que um movimento não é uma substância homogênea ou um assunto em si mesmo, mas um resultado ou um processo? Em vez de tentar identificar características para ver se elas podem ser funcionalmente relacionadas a outras, faz mais sentido começar com os dados. Eu penso que um método marxista partiria das relações sociais como uma unidade de análise fundamental. Eu começaria com o modo como as relações sociais são organizadas dentro de um modo particular de produção em torno da exploração e da opressão, e são, portanto, sobredeterminadas pelo antagonismo e pela luta. Isso equivale a examinar como essas relações devem ser reproduzida ao longo do tempo de forma ampla e aberta, em parte por meio de lutas.
Ao confiar em tal perspectiva relacional e processual, é possível identificar as condições sob as quais um movimento social pode emergir. Suponhamos que a reprodução de uma dada relação social tenha sido questionada e que classes ou grupos sociais antagônicos tenham entrado em conflito aberto (embora super-determinado), ativando o potencial ao qual estão ligados, atraindo outras classes para eles, ou grupos sociais. Como a reprodução é um problema político, pode-se presumir que esse movimento se referirá ao poder do Estado (a ideia de um movimento totalmente “não institucional” é um mito liberal que os próprios liberais não acreditam). ; e como um movimento é necessariamente organizado em um contexto espacial, ele terá uma geografia, um tipo de configuração própria (o Civil Rights era um movimento das grandes cidades, o massivo movimento de resistência do Delta rural). Estas são apenas coordenadas, princípios de investigação para ajudar na análise concreta de situações concretas.
Uma consequência desse modo de ver as coisas é que é preciso se perguntar sobre aqueles que dizem querer “construir” um movimento social, ou “criar” um, ou transformar um partido em um movimento. Isso parece bom porque os movimentos parecem, ao contrário dos partidos, emancipados (mesmo que não sejam) dos males e armadilhas do poder do Estado. Mas não podemos decretar a existência de um movimento, nem podemos planejar uma queda na taxa de lucro. Faz mais sentido falar sobre o que você pode fazer – se você está em uma festa ou se está envolvido em uma campanha ou qualquer outra coisa – isso é dizer organize a classe – ou “os 99%” se preferir a interpelação populista.
DH: Uma das marcas registradas do trabalho de Stuart Hall, como muitos de seus colegas e contemporâneos do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, foi essa capacidade de combinar forte análise empírica com uma teoria extremamente sofisticada e diferenciada. Sem dúvida, essa abordagem chegou à sua apoteose na análise de Thatcher e do populismo autoritário feita por Hall. Em um de seus estudos recentes sobre políticas de “austeridade”, você escreve que “[se] quiser começar a entender o que aconteceu, precisa voltar e ler Stuart Hall. Você deve ler Policing the crisis e o artigo “The Great Moving Right Show”. Embora se pense nas opções políticas concretas que eram dele, Hall soube captar a magnitude do projeto transformador dos neoliberais, o fato de ser uma tentativa global de construir uma nova hegemonia que operaria tanto no nível da cultura, ideologia e técnicas de governamentalidade, apenas no nível das lutas de classe na indústria e nas privatizações “(Seymour, 2013)”. Você pode dizer uma palavra sobre a importância do trabalho de Hall – ou a escola de Birmingham em geral – sobre o seu? Quais são as especificidades dessa abordagem teórica, quais são seus pontos fortes e limitações?
RS: É impossível fazer justiça à escola de Birmingham porque revolucionou a análise de raça e cultura na Grã-Bretanha, praticamente inventou a disciplina de estudos culturais (e assim tornou visível toda uma série de coisas que não estavam) e colocaram essas questões de volta na agenda dos marxistas obtusos de todos os tipos. Mesmo hoje, se você ensina estudos raciais, é difícil se afastar da órbita desses pensadores, pois eles são essenciais. Qualquer um que não fala sobre raça sacrifica sua probidade em classe.
Fico, no entanto, impressionado com o fato de que o Policiamento da crise e os textos da época fossem todos exames particularmente urgentes de situações concretas, da conjuntura. Eles eram, talvez por esse motivo, ricos o suficiente teoricamente. Os temas gramscianos dominavam, mas a Escola renovava constantemente seu arsenal teórico ao frequentar o feminismo, Foucault, Derrida, a Teoria da Tela e tudo o que poderia ser requisitado para a análise E isso deu a mais extraordinária representação do poder do Estado, a crise e aquele direito insurgente que estava prestes a tomar as coisas em suas próprias mãos. Eles descreveram com grande clarividência um modo emergente de dominação que, no momento em que comecei a ler suas obras, entrou em crise.
Pessoalmente, também fiquei alarmado com os dogmas ineficazes da extrema esquerda em resposta à crise capitalista, observando o fracasso de nossas previsões, registrando a esterilidade de nossas estratégias apoiadas por premissas econômicas, e fiquei muito feliz ao ler sobre “O grande show de direita em movimento” e seu implacável ataque frontal do que era então o catecismo da extrema esquerda. Foi um salto à frente de vários anos-luz.
É claro que é fácil e concordamos em rejeitar tudo isso com base no fato de que acabou quando terminou – no que diz respeito a Hall e seus marxistas. Hoje eles foram do Kinnockismo ao nascente Blairismo e finalmente afundaram. Em desilusão, uma vez que Blair foi ao poder.
Minha impressão do caso de Hall é que, talvez por causa de sua leitura particular de Gramsci, e apesar dos avanços teóricos que ele fez, ele tenha feito parte dessa tendência de reduzir as práticas hegemônicas a seu aspecto consensual. Discursivo, sendo muito menos atento ao outro aspecto, o da força pura e simples. Penso que a sua subestimação da importância da greve dos mineiros de 1984-85, bem como a sua sobrestimação da “soft left” [8] de Neil Kinnock, não estão desvinculados disso. Ele superestimou a força persuasiva do Thatcherismo e, por essa razão, colocou muita ênfase na busca de simpatizar e negociar com os elementos progressistas presentes em suas raízes culturais. Isso resultou em uma espécie de derrota contraproducente, na medida em que significou abrir mão de um terreno ideológico que não precisava ser ao mesmo tempo em que prestava pouca atenção à guerra de movimentos que se desdobrava nas indústrias chaves.
Mas depois de anos corrigindo a social-democracia, eviscerando culturas e organizações de esquerda, o longo declínio dos sindicatos, a crescente mediação das relações sociais pelo mercado ou mecanismos de mercado, e a transformação da cultura popular em um ethos competitivo, a situação era muito diferente. Confrontados com a era da austeridade, precisávamos de linguagem para abordar situações políticas em que os conflitos não eram mais estruturados principalmente em torno de indústrias e locais de trabalho, e onde havia de fato um reservatório de consentimento. Ampla e confusa para algumas das leis mais nocivas e perversas. Em primeiro lugar, a crescente articulação do neoliberalismo com o racismo nacionalista nos últimos anos finalmente gerou uma renovação fascista genuína, embora embrionária. – dos quais encontramos elementos na campanha de Trump, na base de Faragisme [9], e branca em toda a Europa. Precisamos saber como esse terreno ideológico e político se formou. Devemos nos engajar na análise da conjuntura e sua relação com a estrutura. E é aí que a escola de Birmingham é preciosa.
DH: Tenho a sensação de que a maioria de seus escritos é informada por um duplo impulso: tornar múltiplo, contraditório e complexo o que se apresenta ao pensamento como homogêneo e simplista (seja raça, estado, gênero ou conjunturas inteiras), e considerar essa contradição e complexidade a partir da perspectiva das múltiplas – e igualmente contraditórias – subjetivações que elas autorizam ou impõem. Seus textos recentes em particular parecem tender a um diálogo mais sustentado com a psicanálise e o trabalho de Jacques Lacan. Qual é a importância teórica da psicanálise para o marxismo, e como ela tem conduzido seu trabalho?
RS: Referi-me em minhas respostas anteriores a alguns dos problemas que me levaram à psicanálise. Mas eu acrescentaria que parte de mim estava tentando resistir ao estilo de análise do “núcleo racional”, a olhar para o “núcleo irracional”. Existe em toda a teoria, incluindo o marxismo, uma tendência racionalizadora: a vontade de “dar sentido” às coisas. Uma das virtudes da psicanálise em seu melhor é que ela se adapta facilmente ao absurdo por certo período de tempo – não passa imediatamente para a produção de significado. E quando você tem pessoas batendo em mexicanos, poloneses, ou se comportando politicamente de uma forma que parece profundamente prejudicial, mesmo para si mesmos, é tentador tentar racionalizar e se mover rapidamente para soluções. Dizer “Ah, eles estão fazendo isso por causa da insegurança econômica” ou “eles fazem isso porque a mídia os informa mal sobre as causas reais de sua situação”. Às vezes vale a pena olhar para o absurdo antes de resolver problemas.
Busco através do meu trabalho uma maneira de entender por que, além do aspecto instrumental, os supremacistas brancos usavam a linguagem do anticomunismo. Eu pensei que seria injustificável achatar o assunto para negligenciar o seu significado psicológico em sua extensão máxima. Por exemplo, se eu tivesse acabado de dizer, “eles usam o anticomunismo porque é mais popular que a supremacia branca, muito explícita e direta, e é uma ferramenta melhor para a mobilização”. Eu teria dado uma história muito pobre e apenas parcialmente verdadeira.
Mas o problema metodológico que eu estava enfrentando era: como eu deveria entender a subjetividade das pessoas com as quais eu não conseguia nem falar porque a maioria delas morreu hoje?
Mesmo que eu fosse capaz de falar com eles, o que eu teria sido capaz de dizer? De acordo com o conceito weberiano de Verstehen [“compreensão”], sabemos o suficiente sobre os outros para poder simpatizar com ele e compreender os significados de seu comportamento. Mas é precisamente o problema da “compreensão”, para dizê-lo em termos lacanianos: muitas vezes, quando “entendemos” os outros, apenas projetamos nossos próprios pensamentos sobre eles. É um discurso que se realiza no que Lacan chamou de Imaginário, um discurso que age como um espelho. Em outras palavras, encontramos apenas os significados que fazem sentido para nós, que correspondem ao nosso senso de realidades presentes. Assim, estamos inclinados a ignorar e negligenciar o que não podemos entender.
A psicanálise lacaniana está resistindo ultimamente a essa tendência. O conselho de Lacan para os psicanalistas, não procurando compreender cedo demais, baseou-se na intuição de que “compreensão” poderia ser apenas uma contratransferência – isto é, uma resistência do analista para análise. E o teórico social não é menos suscetível a essa resistência, não menos propenso a querer evitar verdades difíceis, nem menos encantado com a atração da inteligibilidade. Mas tudo isso nos deixa com a questão do que devemos fazer, se não tentar entender. No contexto analítico, supõe-se que o analista exerça uma atenção flutuante, para observar as falhas no sentido, os lugares onde o ego não apaga mais eficazmente seus traços, onde há uma ruptura no curso subterrâneo do significado – o erro, a má articulação, a piada, o disparate, todas as formações de compromisso entre a intenção consciente do sujeito e o reprimido.
Uma vez alcançado o que Lacan chama de “a palavra completa”, o discurso se torna algo diferente de um espelho: o registro imaginário dá lugar ao registro simbólico. Aqui o analista presta atenção às propriedades materiais e formais da linguagem: o que você realmente diz não o que você “quer dizer”.
Bem, esta abordagem tem algumas vantagens. É uma hermenêutica de suspeita, mas significa assumir total responsabilidade pelo povo. É uma abordagem interpretativa, mas sua interpretação é baseada nas propriedades lógicas dos enunciados, ao invés de buscar inferir um significado a partir de índices externos.
Ela está interessada em significado subjetivo, mas, ao mesmo tempo, a linguagem é uma propriedade pública, coletiva, a parede de ferro entre “o indivíduo” e a sociedade, entre “o interior” e “o lado de fora”, é problematizado. Portanto, foi possível extrair certos princípios de interpretação, diretrizes e o contexto estritamente clínico no qual a teoria de Lacan foi desenvolvida – e isso deu a análise do discurso de Lacan. Os marxistas tiveram dificuldade em explicar e teorizar adequadamente o assunto, porque o marxismo é uma teoria das relações entre diferentes níveis e estruturas da realidade social, não uma teoria da subjetividade. E eu simplesmente acrescentaria que a psicanálise produziu avanços revolucionários neste campo, inigualáveis e potencialmente subversivos, que os marxistas devem levar a sério.
DH: Para finalizar, gostaria de perguntar sobre a escrita em si. Há uma insistência entre alguns pensadores marxistas, que ocasionalmente (mas nem sempre) anda de mãos dadas com o filistinismo residual, sobre a urgente necessidade política de um “estilo simples”. A ironia é claro, é que a prosa simples é ideologicamente muito ambígua – com um legado de inclinação protestante, empirista, variando de Francis Bacon e Thomas Pratt a George Orwell. Por outro lado, você demonstra em seu trabalho um senso óbvio das alegrias e prazeres da escrita. Como você entende a relação entre estilo e política?
RS: Oscar Wilde disse a um dos seus personagens: “Ser natural é também uma pose e a mais irritante que eu conheço. “
Sinto um pouco mais de simpatia pelo naturalismo, pois ele está ciente de seu ismo, de seu artifício. Pessoas que escrevem em um “estilo simples” às vezes podem ser extraordinariamente eficazes. Se eles estão conscientes de que esta é apenas uma forma literária entre outros com – para usar suas palavras – suas próprias “alegrias e prazeres”.
Até mesmo contar uma história, do começo ao fim, é um artifício. Histórias nunca acontecem dessa maneira, elas não têm um começo natural, e o trabalho “completo” é uma forma ideológica. Explicar as coisas pura e simplesmente ainda é uma mentira. Como Oscar Wilde disse uma vez, a verdade raramente é pura e nunca é simples. Na maioria das vezes, dificilmente faz sentido.
Escrever é um artifício em sua essência; é uma arte de encarnação, o que dá a ser uma forma física.
“Colocar em palavras” significa dar forma à existência, e não existe um pai todo-poderoso, um Grande Outro ou alguém para garantir a superioridade de uma forma sobre outra.
Ainda assim, a metafísica subjacente dos zeladores do “estilo simples” é a de uma escrita que é uma “janela para a realidade”, onde o assunto é cuidadosamente excluído – e é isso que ensinamos tão miseravelmente a tantas pessoas. Em seu excelente livro sobre a escrita, Getting Restless, Nancy Welsh protesta contra o conselho dado aos alunos de apagar seu próprio papel na escrita do conhecimento. “Não é sobre você, não fale sobre você.”
À esquerda, isso se deve a um puritanismo mal digerido e a uma forma de anti-intelectualismo “operário” (anti-obreiro por seu paternalismo). Há quase uma sensação de vergonha sobre o excesso intrínseco da escrita, uma vez que nunca é redutível à comunicação, sempre produz efeitos que não esse conhecimento. Palavras são objetos estéticos, objetos eróticos, e isso gera uma espécie de fobia em alguns componentes da esquerda. E eu suspeito de uma forma de agressão para o leitor entre as pessoas da esquerda que escrevem neste “estilo simples”, um desejo de irritar e intimidar o leitor o máximo possível – eu sofri com meu próprio esforço de divulgação, agora é a sua vez.
Essa abordagem nos dá o pior dos dois mundos. As pessoas, logo que subscrevem a idéia de que alguém pode sair de seus escritos, tornam-se autores ruins, falantes. Eles se tornam maus autores porque a escrita se torna um meio de repressão entre outros, em vez de um meio de sublimação; transformada em um processo sem alegria, a escrita também assume uma função de culpa, as pessoas não conseguem entender por que elas são tão medíocres para escrever. Eles se tornam falantes na medida em que a versão da realidade que eles apresentam parece fora de um olho divino, uma espécie de Buda indesejado.
Uma política radical deve ser, no mínimo, radicalmente desnaturalizadora. Deve-se destacar a arte da vida, o fato de que produzimos e moldamos o mundo em que vivemos, mesmo que seja em circunstâncias e com materiais que não escolhemos.
Notas:
1. HUAC e SISS tinham a missão de realizar investigações anti-comunistas (N.d.T.).
2. 1] O “Brown v. Conselho de Educação “, emitido em 17 de maio de 1954 pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, declara a segregação racial em escolas públicas inconstitucional (Nd.T.).
3. Organização de supremacia branca criada em 1954 no Mississipi, uma espécie de vitrine legalizada da Ku Klux Klan (N.d.T.).
4. A estratégia de resistência maciça foi desenvolvida por deputados e senadores da Virgínia para unir os políticos brancos em torno de uma campanha para impedir a desagregação através da educação pública (Nd.T.)
5. Oswald Spengler (1880-1936) é um filósofo alemão. Sua obra principal, The Decline of the West, lhe rendeu uma celebridade mundial. Charles Henry Pearson (1830-1894) é um historiador e político nascido na Austrália nascido no Reino Unido. Seu livro Vida Nacional e Caráter: Previsão, que prevê o declínio dos ocidentais contra os asiáticos e especialmente a China, está fazendo um grande barulho nos círculos intelectuais anglo-saxônicos. Este livro teve uma grande influência sobre os proponentes do fortalecimento da política da Austrália Branca (N.d.T.).
6. “Extraordinary rendition” em inglês: o termo “rendição” refere-se ao ato de transferir um prisioneiro de um país para outro fora da estrutura judicial, inclusive fora dos procedimentos normais de extradição. Quando o sujeito é removido pela primeira vez durante uma operação clandestina antes de ser transferido, ele é chamado de rendição extraordinária
7. Gaston Bachelard, A Psicanálise do Fogo, Paris, Gallimard, 1938 (N.d.T.).
8. A esquerda branda foi uma facção centrista do Trabalhismo, originalmente da ala esquerda do partido, cujo nome marca a oposição a uma esquerda dura cuja retórica socialista era mais explícita (N.d.T.).
9. Nigel Farage, membro fundador e líder do UKIP de 2006 a 2016 (N.d.T.).
Referências:
Davis, Mike 2016. “‘Fight with hope, fight without hope, but fight absolutely’: An interview with Mike Davis,” LSE Department of Sociology Blog. URL: http://blogs.lse.ac.uk/researchingsociology/2016/03/01/fight-with-hope-fight-without-hope-but-fight-absolutely-an-interview-with-mike-davis/ [Date last accessed: 11/10/16]
Eley, Geoff 2016. “Europe, Democracy and the Left: An interview with Geoff Eley,” Salvage. URL: http://salvage.zone/online-exclusive/europe-democracy-and-the-left-an-interview-with-geoff-eley/ [Date last accessed: 11/10/16]
Seymour, Richard 2013. “Where Next for the Left?” The North Star. URL: http://www.thenorthstar.info/?p=8949 [Date last accessed: 11/10/16]
––– 2016. “Cold War Anticommunism and the Defence of White Supremacy in the Southern United States” (unpublished Ph.D. thesis, LSE).
Thomas, Peter D. 2009. The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism (Leiden: Brill).
Entrevista conduzida por Daniel Hartley e traduzida do inglês por Jean Morisot.
Imagem: Harmonia Rosales, “Birth of Oshun”, 2017, da série de trabalhos ‘Black Imaginary to Counter Hegemony (B.I.T.C.H.)’
Fonte: https://lavrapalavra.com/2019/03/15/a-hegemonia-da-raca-de-gramsci-a-lacan/















 O verdadeiro estado amoroso supõe um estado de semiloucura correspondente, de obsessão, determinando uma desordem emocional que vai da mais intensa alegria até a mais cruciante dor, que dá entusiasmo e abatimento, que encoraja e entibia; que faz esperar e desesperar, isto tudo, quase a um tempo, sem que a causa mude de qualquer forma. Em Cassi, nunca se dava isso. Escolhida a vítima de sua concupiscência, se, de antemão, já não as sabia, procurava inteirar-se da situação dos pais, das suas posses e das suas relações…” (p. 779)
O verdadeiro estado amoroso supõe um estado de semiloucura correspondente, de obsessão, determinando uma desordem emocional que vai da mais intensa alegria até a mais cruciante dor, que dá entusiasmo e abatimento, que encoraja e entibia; que faz esperar e desesperar, isto tudo, quase a um tempo, sem que a causa mude de qualquer forma. Em Cassi, nunca se dava isso. Escolhida a vítima de sua concupiscência, se, de antemão, já não as sabia, procurava inteirar-se da situação dos pais, das suas posses e das suas relações…” (p. 779)